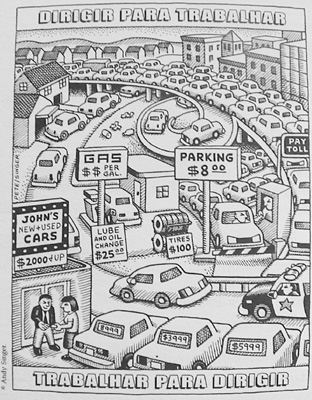No início do mês fui surpreendido ao passar em frente a uma banca de jornais com uma matéria estampada na capa de um periódico local, que alertava os leitores para uma operação iniciada pela polícia militar para ocupar “o Complexo Santa Cruz”. A operação, chamada “apocalipse”, apelava para uma alegoria bíblica, talvez na tentativa de gerar um clima de terror psicológico na cabeça dos supostos meliantes perseguidos pela lei, ou talvez, por aquele hábito estranho das corporações militares de darem nomes dessa natureza às suas ações e planos extraordinários (coisas como Operação Trovão, Dinamite, Tempestade, Águia Branca, Jibóia Parda, etc), quando não inspirados em verdadeiros jargões quase hollywoodianos que expressem força, violência, rigor, ousadia, etc.
Algumas semanas depois, ao assistir um programa de TV local, passei por uma entrevista do comandante dessa operação, de quem já não me recordo o nome, e explicava alguma coisa ou outra sobre a importância dessas operações, especialmente nas chamadas “zonas quentes de criminalidade”. Sua opinão não ia além da fórmula mais tradicional e conservadora de se pensar a segurança pública, compondo uma equação associando os seguintes fenômenos: consumo e venda de drogas, marginalidade, delito e violência urbana. Fato que, em geral, não se pode esperar muito da polícia militar, pois lamentavelmente, essa corporação foi criada como braço da repressivo do Estado para manter a ordem pública. A questão é que, dificilmente, talvez com exceção de alguns policiais envolvidos com a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares (ASPRA), o significado concreto de ordem pública nunca tenha sido questionado ou discutido para além daquilo que pensa o oficialato, geralmente em cargos ocupados por militares graduados e próximos aos governadores, a quem se vincula institucionalmente a PM.
Dentro das ciências sociais, especialmente entre aqueles pesquisadores que trabalham em núcleos interdisciplinares de estudos sobre a violência urbana, nos últimos dez anos ocorreu um poderoso trabalho de revisão de uma antiga tese que associava pobreza/marginalidade e violência. Esse trabalho de revisão, em grande parte financiado por instituições como a Fundação Ford e órgãos de pesquisa internacionais, estavam interessados em despolitizar o campo de estudos da violência urbana, na tentativa de identificar outros fatores que pudessem explicar, e até mesmo, determinar, a explosão de criminalidade existente nos grandes centros urbanos. O curioso é que, mesmo sendo vitoriosos, pois muitos desses estudiosos hoje se converteram em verdadeiros assessores das agências de segurança pública do Estado, a tese continua sendo débil. Isso porque os principais “territórios da criminalidade”, as “zonas quentes”, curiosamente, continuam sendo as periferias, ou seja, os “territórios da pobreza”.
Mas territórios da pobreza não são apenas aqueles espaços onde os pobres se aglomeram para construir seus barracões e viver com sua penca de filhos. Não. Os territórios da pobreza são espaços com precário ou inexistente acesso aos serviços públicos mais elementares, são espaços segregados social e culturalmente, a partir de onde se erige um imaginário específico que converte seus moradores em sub-cidadãos, em seres esteticamente e moralmente inferiores. Por serem segregados, são espaços que devem ser evitados pela “gente de bem”, e de onde se recruta toda aquela espécie de mão de obra que não merece a dignidade de uma remuneração honesta para os trabalhos essenciais para a vida da “gente de bem”: são as empregadas domésticas, os boys e cobradores do comércio, vigias, porteiros, limpadores de carro e outros tipos serviçais.
E agora que o bairro Santa Cruz virou complexo (de onde veio esse batismo? Dos moradores, da PM, da prefeitura?), ainda que me venham com qualquer justificativa do tipo geodemográfica (ah, porque hoje são vários bairros que cresceram ali dentro!), isso não me cheira nada mais que um ato simbólico de estigmatização daquele território que oferece a maior parte da mão de obra mais explorada (que coincidentemente também é negra!) dessa cidade. Em suma, isso é um insulto, e dos graves. E creio que não somente os moradores do bairro, mas o conjunto dos cidadãos do município deveriam repudiar com veemência tal tipo de denominação.
Aliás, quem sabe assim não poderíamos criar uma oportunidade histórica para que na cidade, e em especial, com a comunidade do Santa Cruz, se realize um verdadeiro debate público sobre qual modelo de segurança pública desejamos, e não essas fantasias separatistas de momento, e de que forma poderíamos atuar para concretizá-la, e transformar os camburões da polícia em algo além dessas versões modernas de “navios negreiros”, fazendo coro com a acertada poesia musical de “O Rappa”.
[ARTIGO CENSURADO PELO DIÁRIO DE CARATINGA, ABRIL DE 2010)